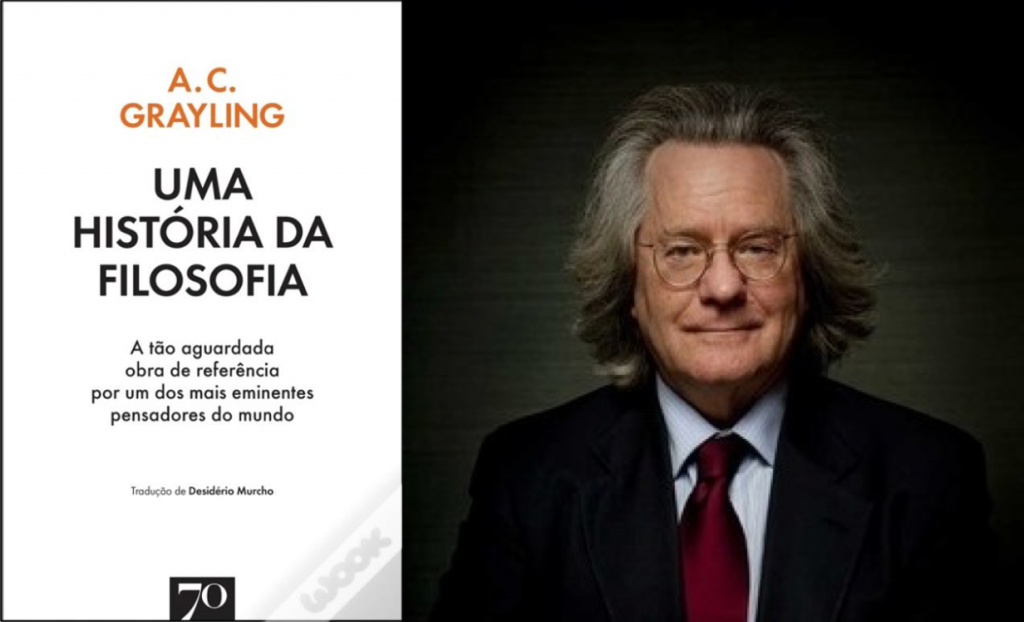Sobre uma história da Filosofia
CRÓNICA
| Desidério Murcho
 A novíssima história da filosofia de A. C. Grayling, atempadamente dada à estampa pelas Edições 70, é um feito notável, por quatro razões principais. Em primeiro lugar, pela abrangência; enquanto outras histórias da filosofia — como o excelente trabalho de Anthony Kenny, em quatro volumes (Gradiva) — se limitam explicitamente à tradição europeia, Grayling inclui o pensamento indiano clássico, o chinês, o persa-árabe e o africano. Em segundo lugar, e na contramão, pela restrição: Grayling exclui propositadamente uma parte do que se considera por vezes canónico na história do pensamento filosófico. E que parte é essa? A teologia. Eis as suas palavras:
A novíssima história da filosofia de A. C. Grayling, atempadamente dada à estampa pelas Edições 70, é um feito notável, por quatro razões principais. Em primeiro lugar, pela abrangência; enquanto outras histórias da filosofia — como o excelente trabalho de Anthony Kenny, em quatro volumes (Gradiva) — se limitam explicitamente à tradição europeia, Grayling inclui o pensamento indiano clássico, o chinês, o persa-árabe e o africano. Em segundo lugar, e na contramão, pela restrição: Grayling exclui propositadamente uma parte do que se considera por vezes canónico na história do pensamento filosófico. E que parte é essa? A teologia. Eis as suas palavras:
A diferença entre esta e outras histórias da filosofia é que esta não envereda pelo que a maior parte das outras oferece, nomeadamente, tratamentos das teologias de Agostinho, alguns dos padres da Igreja dos alvores do cristianismo e dos «escolásticos» dos tempos medievais tardios, como Tomás e Duns Escoto. Este livro é uma história da filosofia, e não da teologia nem da religião. Um aspeto estranho das histórias da filosofia que incluem teólogos entre os filósofos é que não há melhores razões para incluir teólogos cristãos quando se exclui os judaicos ou islâmicos; e não há melhores razões para incluir a teologia numa história da filosofia do que a história da ciência (na verdade, há até mais razões para incluir esta última).
Isto não significa excluir os filósofos cristãos, mas apenas as partes especificamente teológicas do seu pensamento; as outras partes não foram excluídas.
A conjunção destes dois aspetos é curiosa, porque, ao que parece, uma parte substancial da resistência ao pensamento filosófico não-europeu é a ideia de que se trata de reflexões de caráter mais religioso do que filosófico. Quem tiver este género de preconceito contra o pensamento filosófico não-europeu — hesitando até em chamar-lhe “filosofia” — fará bem, pois, em ler esta inovadora releitura que Grayling propõe da história da filosofia.
Em terceiro lugar, Grayling escreve com uma elegância clássica, aliando precisão a abrangência de visão, e profundidade de compreensão histórica à clareza conceptual. E manifesta uma paixão pela filosofia que é sempre bem-vinda, e se manifesta por vezes em breves e tocantes reflexões pessoais:
Perto da agora do tempo de Platão, tal como é hoje visitada na Atenas contemporânea, consegue-se ver os vestígios da prisão onde Sócrates foi encarcerado e morto. Tomou um banho no dia em que bebeu a cicuta; só uma das celas da prisão tinha um quarto de banho anexado, também visível nos vestígios das fundações; consegue-se, portanto, ficar no sítio provável onde estes eventos momentosos tiveram lugar. Para quem se deixa afetar por estas coisas, o lugar suscita fortemente a reflexão.
Mas é talvez a quarta razão que faz deste trabalho uma obra única, e que impressiona. E a quarta razão é Grayling explicar cuidadosamente como temos nós hoje conhecimento do pensamento da Antiguidade grega. Muitos estudantes e leitores ocasionais de filosofia tendem a pensar, por ingenuidade histórica, que é a coisa mais natural do mundo que tenhamos acesso atualmente às obras de Platão, de Aristóteles ou dos outros filósofos da Antiguidade. Esta perceção das coisas é de uma extrema injustiça para com gerações de exegetas do século XIX, que foi quando se começou a levar a sério a recolha e fixação dos textos clássicos, para não falar na preservação cuidadosa dos manuscritos. Claro que por vezes as consequências desse trabalho de formiguinha teve repercussões danadas, como é o caso de Pitágoras: sabe-se hoje muito menos sobre esta figura histórica, do que se pensava que se sabia antes dos pacientes e revolucionários trabalhos de arqueologia documental levados a cabo por Walter Burkert que, já no século XX, mostrou que grande parte dos feitos e ideias atribuídos a Pitágoras carecem de fontes fidedignas e são quase certamente espúrios.
Esta atenção de Grayling às fontes e ao modo como nos chegaram os clássicos ajuda os leitores, sobretudo mais jovens, a ter consciência da fragilidade das coisas culturais. De grande parte dos filósofos antigos só conhecemos o nome, mas não as obras; de outros, conhecemos as obras só por via dos comentários, por vezes hostis, de outros autores que nos chegaram. E sabe-se lá que outros filósofos existiram dos quais não resta uma só uma referência, ainda que indireta. Para quem anda cheio de pressa a excluir autores e derrubar estátuas, é bom relembrar a fragilidade do nosso conhecimento do passado.
Esta atenção aos acidentes de percurso que as fontes sofreram até nos chegarem põe também em perspetiva a maneira por vezes leviana como se valoriza alguns autores em detrimento de outros, só porque é comum no nosso tempo fazê-lo. Aristóteles é aqui um caso ilustrativo. A partir da reabilitação de Tomás, o pensamento de Aristóteles passou a dominar as universidades europeias, e acabou até por desempenhar algum papel negativo nas resistências obscurantistas à revolução científica dos séculos XVII e XVIII. Porém, até Tomás, Aristóteles era em grande parte um ilustre desconhecido, e quando era conhecido, era apenas mais um dos muitos autores que muitos pensadores cristãos rejeitavam, por defender ideias que se considerava incompatíveis com o cristianismo.
Daí que apesar de surpreendente e ainda comovente pela tremenda injustiça, os acidentes de percurso dos escritos de Aristóteles mais não fazem do que sublinhar que a sua fama nem sempre foi o que é hoje:
É um acidente sortudo que tenhamos tantos escritos de Aristóteles, dada a suscetibilidade ao desaparecimento das obras da Antiguidade. Os diálogos de Platão sobreviveram porque a sua escola durou quase mil anos; as de Aristóteles quase não sobreviveram de todo em todo. Se sobreviveram foi porque — pelo que nos diz Estrabão — foram deixadas ao sucessor da sua própria escola, Teofrasto, que por sua vez as deixou ao seu discípulo Neleu. Este levou-as para casa em Escépcis, na Trôade, e deixou-a aos seus descendentes, nenhum dos quais tinha o mínimo interesse em Aristóteles nem em filosofia. Armazenaram os manuscritos numa cave, onde foram atacados pela humidade, mofo, insetos e ratos. Felizmente, foram comprados por um colecionador e bibliófilo ateniense rico chamado Apelicão, que viveu no século I AEC (antes da Era Comum). A sua grandiosa biblioteca foi tomada como espólio de guerra pelo general romano Sula, o Ditador, quando capturou Atenas em 86 AEC, durante a primeira guerra mitridática, na qual Roma conquistou a Grécia. Os textos foram levados para Roma, onde Andrónico de Rodes, um dos poucos sobreviventes da escola de Aristóteles (que tinha praticamente morrido no século III AEC), se dedicou a organizar as suas obras. Devemos a Andrónico a forma e organização do que temos de Aristóteles.
Esta história da filosofia de Grayling é mais forte precisamente nos pormenores e reflexões históricas, quando outras histórias da filosofia são mais pormenorizadas no exame de ideias filosóficas mais complexas. Mas muito ganha assim o leitor comum, por um lado, que não pretende perder de vista a floresta ao examinar tão de perto algumas árvores, e também o estudioso das coisas filosóficas, pois raramente se encontra numa história da filosofia esta sensibilidade e erudição históricas.
Em suma, trata-se de uma obra imprescindível tanto para leitores que fazem da filosofia a sua vida profissional, como para leitores interessados em alargar as suas perspetivas culturais. Além do mais, é daquelas leituras que, simplesmente, dão gosto.
__________
A. C. Grayling
Uma História da Filosofia
Edições 70 29,90€